A guerra dos mundos (Edição especial com ilustrações)
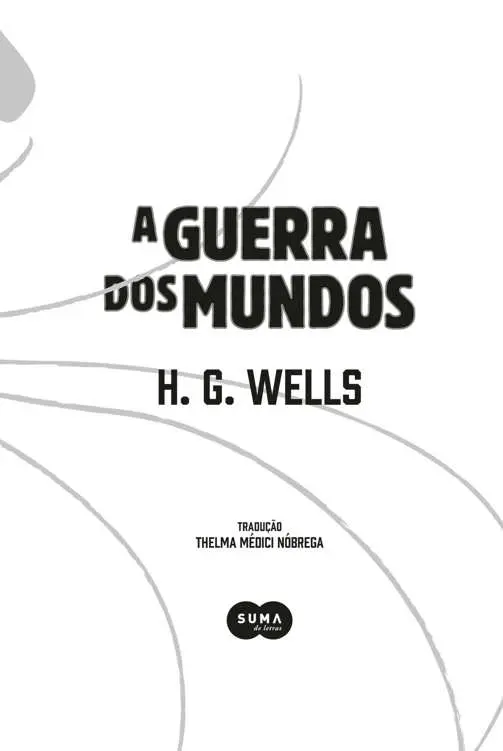
Mas quem viverá nesses mundos, se forem habitados?...
Somos nós ou eles os Senhores do Mundo?...
E por que são todas as coisas feitas para o homem?
Kepler (citado em A ANATOMIA DA MELANCOLIA)
SUMÁRIO
Prefácio por Braulio Tavares
Introdução por Brian Aldiss
LIVRO I A chegada dos marcianos
1 As vésperas da guerra
2 A estrela cadente
3 No campo de Horsell
4 O cilindro se abre
5 O raio de calor
6 O raio de calor na estrada para Chobham
7 Como cheguei em casa
8 A noite de sexta-feira
9 A guerra começa
10 Na tempestade
11 Da janela
12 O que eu vi da destruição de Weybridge e Shepperton
13 Como encontrei o padre
14 Em Londres
15 O que aconteceu em Surrey
16 O êxodo de Londres
17 OThunder Child
LIVRO II A Terra sob o domínio dos marcianos
1 Soterrados
2 O que vimos a partir da casa arruinada
3 Os dias de aprisionamento
4 A morte do padre
5 O silêncio
6 A ação de quinze dias
7 O homem do Monte Putney
8 Londres morta
9 Devastação
10 Epílogo
ENTREVISTA

PREFÁCIO
A GUERRA DOS MUNDOS (1898) É PROVAVELMENTE A PRIMEIRA HISTÓRIA de invasão da Terra. Até então, existiam histórias em que ela era visitada por seres de outros planetas que vinham meramente no papel de observadores filosóficos, como em Micrômegas (1752) de Voltaire. Foi Wells quem teve a ideia de dar a esses habitantes alienígenas uma civilização e uma tecnologia comparáveis às nossas e, em alguns aspectos, superiores; e de colocá-los contra nós na disputa pelo espaço vital de que precisavam, quando viram esgotados os recursos do seu próprio planeta. Além disso, nas longas descrições do segundo capítulo do Livro II do romance, Wells lhes deu um caráter essencial de estranheza. Embora ele enfatize que os habitantes da Terra e os de Marte estão simplesmente em pontos diferentes da escala evolutiva, o modo como estes últimos são descritos tem a clara intenção de provocar estranhamento e repulsa.
Os marcianos de Wells são o primeiro retrato do alienígena como encarnação do Outro, do Estranho, de tudo que representa o nosso medo diante do desconhecido, e principalmente de um desconhecido que nos provoca repulsa. Nesse sentido, A guerra dos mundos trouxe aos leitores da época uma vigorosa e verossímil descrição literária de um Monstro Legião, um monstro que, ao contrário do monstro de Frankenstein, não é uma criatura isolada fabricada no sótão de um cientista imprudente, mas uma espécie inteira, rival da nossa, disputando conosco um território que até então tínhamos imaginado ser exclusivamente nosso.
Este livro surgiu durante o primeiro e o mais literariamente brilhante período da carreira de H. G. Wells (1866-1946), quando ele produziu uma impressionante série de romances misturando informação científica, especulação filosófica e conhecimento jornalístico, além de um domínio seguro da narrativa de ação e aventuras. Em pouco mais de uma década ele publicou A máquina do tempo (1895), A ilha do dr. Moreau (1896), O homem invisível (1897), A guerra dos mundos (1898), When the Sleeper Awakes (1899), Os primeiros homens na Lua (1901), O alimento dos deuses (1904), A Modern Utopia (1905), além de dezenas de contos extraordinários como “O desabrochar da estranha orquídea” (1894), “A história de Plattner” (1896), “Os invasores do mar” (1896), “O ovo de cristal” (1897), “A estrela” (1899), “O novo acelerador” (1901), “O encouraçado terrestre” (1903) etc.
Toda essa produção, pela sua qualidade e originalidade, chega a parecer a explosão de uma supernova num céu noturno, considerando-se ser um escritor tão jovem (publicou A máquina do tempo aos vinte e nove anos) e que também escrevia fartamente em outros gêneros. Seus romances mainstream não tiveram uma sobrevida editorial tão longa quanto a sua ficção científica, mas tiveram êxito na época e são bem aceitos por muitos críticos até hoje.
Wells é um desses escritores de talento que têm a sorte de enriquecer muito cedo com seus escritos e usar esse sucesso para tentar mudar o mundo. Viajou muito, discutiu com luminares e estadistas de toda parte. Publicou dezenas de ensaios de história, sociologia especulativa, futurologia. Na história da ficção científica talvez somente Arthur C. Clarke tenha exercido um ativismo em escala internacional como o seu (Isaac Asimov ou Ray Bradbury também poderiam tê-lo feito, se viajassem de avião). Quanto às suas previsões futuristas, são mais ambiciosas do que as de Júlio Verne, até porque foram publicadas sob forma de ensaios para uma futurologia.
Mas Wells não é um cientista que escreve, é um jornalista científico. Um jornalista da pena rápida e verbo fluente, mas com base científica. Não falo de conhecimentos científicos profundos; para um escritor como ele bastava ter um correto entendimento do que é o método científico, do grau de honestidade factual e da boa informação técnica necessários para construir as hipóteses especulativas que a ficção científica requer.
Fenômeno de talento individual, sem dúvida, mas também um fenômeno de época. Os estudiosos de Wells associam o florescimento da literatura popular inglesa do fim daquele século com o chamado Education Act (uma reforma parlamentar de 1870 que impulsionou o ensino público) e com um corte nos impostos sobre o papel. Juntando esses dois novos dados, houve um crescimento no número de leitores e no de publicações. O modelo clássico de publicação da ficção popular se consolidou nessa época, entre Grã-Bretanha, Estados Unidos e França. A história aparecia primeiro seriada em jornal ou revista, e depois era relançada em livro. Alguns dos principais romances de Wells, inclusive A guerra dos mundos, obedeceram a esse padrão.
O florescimento dessa literatura era propício a quem fosse, como ele, capaz de ter uma ideia brilhante, explorá-la com intensidade por um breve tempo, publicá-la, e partir para a próxima. Wells recorda com saudade (ver meu prefácio em O País dos Cegos e outras histórias, 2014) a explosão generalizada de talentos contemporâneos seus, todos publicando sem parar: Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, James M. Barrie, Henry James, Stephen Crane, Joseph Conrad. E é melancólico vê-lo dizer de W. W. Jacobs que “sozinho, parece inesgotável”. Hoje, Jacobs é lembrado pelo clássico “A pata do macaco” (1902), e só.
Um dos defeitos do filme Um século em 43 minutos [Time after Time] (1979), de Nicholas Meyer, aliás um bom filme, é mostrar um Wells (interpretado por Malcolm McDowell) tímido e tatibitate diante das mulheres.
1 comment